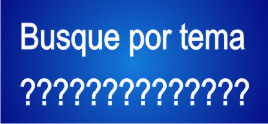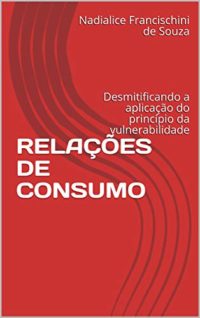Alguns assuntos do Direito são ministrados no primeiro e segundo semestre, mas somente vamos ter consciência da importância deles quando já estamos no final do curso ou após a formatura. A interpretação da norma e a integração da norma é uma desses temas.
Isso porque, quando se trata de análise e aplicação da norma jurídica não basta a simples subsunção, não basta a simples leitura do artigo e aplicação direta ao caso concreto, pois se assim fosse poderíamos dispensar a figura de uma pessoa especializada, que estudou durante cinco anos na faculdade, que fez especializações, mestrado, doutorado e outros diversos cursos de aperfeiçoamento. A adequação da norma ao caso concreto demanda uma análise profunda do caso e o conhecimento do ordenamento jurídico como um todo.
Um outro problema é a ausência de normas para regular o caso. Nem todas as situações, nem todos os conflitos, há norma regulatória. Muitas situações novas surgem todos os dias, em função da tecnologia, em função de novos contratos, em função de novas relações que as pessoas tratam e que o Juiz não pode se eximir de julgar, o non liquet não é admitido no ordenamento brasileiro.
Esses dois problemas são solucionados com a interpretação da norma e com a integração da norma.
A interpretação da norma ou Hermenêutica Jurídica
Interpretar é o ato de dá sentido a uma frase ou a uma norma, no caso da interpretação jurídica. A interpretação, segundo Eros Roberto Grau (2005, p. 21), “é constumeiramente apresentada ou descrita como atividade de mera compreensão do significado das normas”. Ocorre que, ainda segundo o mesmo autor (2005, p. 22)
“O intérprete procede à interpretação dos textos normativos e, concomitantemente, dos fatos, de sorte que o modo sob o qual os acontecimentos que compõem o caso se apresentam vai também pesar de maneira determinante na produção da(s) norma(s) aplicáveis ao caso.”
Ou seja, o ato de interpreta não é simplesmente pegar um artigo da lei ou de outra norma jurídica e o aplica sobre o caso, pois esse caso tem vários contornos e várias singularidades que vão fazer com que o ato de interpretar produza em si mesmo uma nova norma, aplicável àquele caso específico e concreto. Neste sentido Tércio Sampaio Ferraz Junior (2008, p. 221) destaca que a interpretação jurídica busca
“[…] alcançar um sentido válido não meramente para o texto normativo, mas para a comunicação normativa, que manifesta uma relação de autoridade. Trata-se, portanto, de captar a mensagem normativa, dentro da comunicação, como um dever ser vinculante para o agir humano.”
A interpretação da norma é assim um ato de criar uma nova norma jurídica, partindo das normas postas no ordenamento, mas aplicável ao caso concreto, diante do caso sub judice. Como ressalta Eros Roberto Grau (2005, p. 34)
“Interpretar é, assim, dar concepção (=concretizar) ao direito. Nesse sentido, a interpretação (=interpretação/aplicação) opera a inserção do direito na realidade; opera a mediação entre o caráter geral do texto normativo e sua aplicação particular; em outros termos ainda: opera a sua inserção na vida.”
Como é possível então concluir que interpretar demanda conhecimento sobre a norma em si mesma, sobre o ordenamento jurídico e sobre o caso que está solucionando com aquela norma. Por óbvio, casos existem casos mais consolidados e outros novos que demandam maior atenção, sendo necessário a aplicação da regra da integração.
A integração da norma
A integração da norma é utilizada quando não há norma que trate sobre o tema. Tércio Sampaio Ferraz Junior (2008, p. 275) ressalta que o problema a integração está relacionado diretamente com a questão da lacuna da lei e a possibilidade de o julgador ir além da “ration legis, configurando novas hipóteses normativas quando se admite a possibilidade de que o ordenamento vigente não as prevê, ou até mesmo de que as prevê, mas de modo julgado insatisfatório”.
O artigo 4º da LICC, tratando da lacuna da norma prevê que “Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”. E o artigo 5º complementa ao dispor que “Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum”.
A questão da lacuna da lei também tem previsão no CPC, no artigo 140, ao determinar que “O juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico”. Ou seja, o non liquet não é uma opção, principalmente porque, situações novas surgem todos os dias e o legislador não pode prever todas as situações de conflito que podem existir; da mesma forma que as pessoas em conflito não podem esperar que o legislador faça uma lei para solucionar o seu caso.
A relação entre interpretação e integração da norma
Tanto a interpretação quanto a integração buscam uma solução mais adequada ao processo, ao conflito concreto e instalado entre as partes, sendo que na interpretação há uma norma genérica sobre o caso e, partindo dessa, o julgado estabelece qual a melhor forma dela solucionar o problema. Já na integração da norma, não há norma, há uma lacuna e, diante dessa lacuna, o julgado usa-se de técnicas próprias para solucionar o conflito, criando uma norma específica para aquele caso.
Não deixe de ler:
Validade, a Vigência e a Eficácia da Norma Jurídica
Teoria do Diálogo das Fontes: uma nova forma de solucionar as antinomias jurídicas
Referências:
FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito. 6. ed., São Paulo: Atlas, 2008.
GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a Interpretação/Aplicação do Direito. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2005.
Sobre a Autora:
 Nadialice Francischini de Souza.
Nadialice Francischini de Souza.
Advogada. Docente. Doutora em Direito pela UFBA, na linha de Relações Sociais e Novos Direitos, estudando a Governança Corporativa e o Direito de Propriedade.